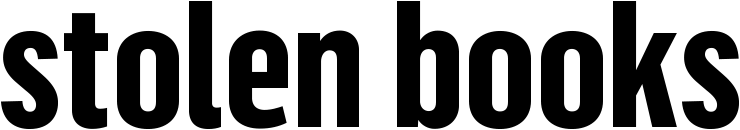ÍPSILON, 2 de Março de 2017
Text by LUÍSA SOARES DE OLIVEIRA about Maria Condado’s exhibition “Do Azul Faz-se o Verde”.
Crítica Artes
PARAÍSOS PERDIDOS
Maria Condado cria uma pintura sobre a história da beleza.
É um trabalho sobre a perda, da beleza em primeiro lugar, do próprio lugar da arte em última análise.
Acompanhamos a obra de Maria Condado (n. 1981) há mais de dez anos, desde que, jovem licenciada em pintura pela ESBAL, mostrava já em Lisboa um corpo de trabalho centrado no tema dos jardins. Este seu interesse amplificou-se nos anos mais recentes, e engloba agora declinações para outro tipo de paisagens deste tipo, nomeadamente a representação de fundos marinhos ou de plantas isoladas, dadas através da mediação ora da pintura, ora do desenho, mas não fugindo nunca a uma leitura da sua própria pertinência como último momento de uma história longuíssima. Neste campo, podemos recuar pelo menos até ao gótico e à construção que então se inicia de metáforas e comparações entre a beleza efémera de flores e jardins e o culto a uma feminilidade que era, até à data, pouco valorizada. Maria Condado, a propósito desta exposição, lança de resto um livro de artista notável, Hortus, o que nos transporta para os inúmeros hortus conclusus, os jardins fechados da história da pintura e do culto mariano.
Mas regressemos à pintura de Maria Condado.
A primeira impressão é de estarmos perante ambientes mediterrânicos – distingue-se aqui um aloés, ali uma palmeira, e mesmo os ambientes marinhos serão mais relacionáveis com águas relativamente tépidas do que com os gelos árticos… Ora, falar da pintura da paisagem – mesmo que recriada por mãos do homem — do sul da Europa remete-nos de imediato para autores e estilos que celebraram de diferentes maneiras a exuberância da vegetação e da cor, ou a generosidade da natureza, e claro a “alegria de viver” de Matisse. De certo modo, a representação do jardim do Sul faz-se sempre por oposição, mesmo que apenas implícita, com a atmosfera fria, cinzenta e, porque não dizê-lo, triste do norte da Europa, e de todas as projecções melancólicas que o romantismo aí operou sobre a natureza. Matisse, como é sabido, é o mestre indiscutível da pintura que festejava tudo aquilo que apreciava na vida: a beleza, da mulher ou da natureza, o dom artístico que lhe tinha cabido nos genes, e claro está o próprio ofício de pintor.
A par de incontáveis naturezas mortas, odaliscas, ateliers e modelos nos ateliers, retratos, jardins, e em suma tudo o que celebrasse o impulso da vida por oposição ao drama picassiano (mas Picasso, como Duchamp, muito admiraram Matisse), é no fundo uma tentativa de representar ou apresentar um paraíso sempre fugidio, sempre irrepresentável no fundo, que a sua obra nos tenta oferecer. Para a cor e a forma de Matisse, o jardim do Sul é o jardim do Paraíso, de um Éden original para o qual toda a pintura tende.
Outros eram então os tempos. Na obra de Maria Condado, estas e outras referências estão sempre presentes, muitas vezes de forma não explícita; mas ela sabe, porque a sua cultura e formação isso nos garantem, que existe um fundo cultural e iconográfico na historiografia da arte europeia ao qual nenhum de nós pode fugir. A obra desta pintora, contudo, deixa transparecer os sinais da sua contemporaneidade, e isto de duas formas: em primeiro lugar, abandonando todas as convenções clássicas e mesmo modernas da representação da paisagem manufacturada pelo homem. E, em segundo lugar, ao deixar evidentes os sinais do fazer, do escorrer da tinta, das emendas até que decidiu durante a realização desta ou daquela pintura.
Por isso, não estamos aqui perante imagens paradisíacas, literalmente, mas perante aquilo que a contemporaneidade, que é o tempo de Maria Condado, operou sobre todas as imagens desse paraíso perdido. Numa pintura ao alto, formato tradicionalmente reservado ao retrato mas que é aqui utilizado para a paisagem, a presença desses escorridos manifesta um carácter de incompletude que se torna na grande característica das obras presentes na exposição. Noutros casos, plantas tropicais parecem deslaçar-se na tela, perder as suas raízes e todos os pontos de apoio visuais que nos permitem enquadrá-las no espaço. Mais longe, o traço desenhado a lápis não coincide com a mancha de pintura sobre a folha de papel. E por aí fora.
Este não é por isso um trabalho fácil. É um trabalho sobre a perda, da beleza em primeiro lugar, do próprio lugar da arte em última análise.